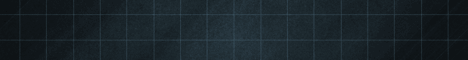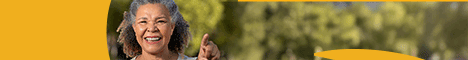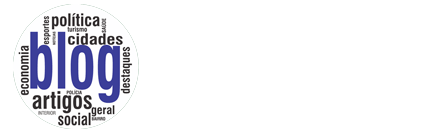Artigo
Setembro Amarelo e a qualidade de vida nos municípios

Autora: Marisa Helena Alves* –
Sou a primeira psicóloga lançada como vereadora nas eleições de Cuiabá. Represento uma categoria que soma cerca de 2,7 mil profissionais na capital de Mato Grosso e aproximadamente 530 mil – ou meio milhão – em todo país. Apesar do tabu que ainda envolve a saúde mental, o Brasil é um dos países que mais investe em políticas públicas que demandam o trabalho de profissionais da área.
No entanto, podemos observar que isso não é o bastante para melhorar os índices brasileiros, já que a saúde mental da população está diretamente ligada a boas condições de vida nos municípios, sobretudo nas periferias. Nós, psicólogos, que trabalhamos com políticas públicas na área da saúde, educação e assistência social, lidamos diariamente com os reflexos nefastos das dificuldades e desigualdades sociais.
O país hoje lidera o ranking mundial de ansiedade e outras doenças mentais. Temos mais de 18 milhões de indivíduos no Brasil com ansiedade patológica, índice superior a 9,3% da população [conforme a Organização Pan-Americana da Saúde], que infelizmente é acarretado principalmente por questões como desemprego, baixos salários, jornadas de trabalho extenuantes, transporte público ruim, aumento da violência, poucas opções de lazer e por aí vai.
Não tem como falar em saúde mental sem antes olhar para todas essas questões socioeconômicas. Existem hoje milhares de pessoas que, mesmo vivendo dentro da cidade, estão fora dela, porque não conseguem participar daquilo que a cidade pode oferecer. A elas falta o básico: moradia, alimentação e até roupas.
Penso que as reflexões da campanha Setembro Amarelo são muito pertinentes em um ano de eleições envolvendo cerca de 5 mil municípios brasileiros. Temos que pensar em como o voto de cada um de nós é fundamental para construir cidades mais humanizadas, acolhedoras, e que não virem as costas para a parcela da população mais pobre, mas, que ao contrário, ofereçam oportunidades de desenvolvimento humano e profissional para todos e todas.
Cuiabá ainda passa por problemas de ordem climática e ambiental que exigem ações de enfrentamento urgentes. Começamos o mês de setembro com mais de 130 dias sem chuva, ondas de calor que superam 40ºC, baixa umidade relativa do ar e excesso de fumaça advindo das queimadas. Não tem como falar em qualidade de vida, bem-estar e saúde mental em um cenário tão inóspito!
Outra pauta que venho debatendo compreende a ampliação e o fortalecimento da rede de atenção à saúde mental. Cuiabá, mesmo sendo a capital mato-grossense, possui apenas um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) álcool e drogas, um CAPS infantil e três CAPS para transtornos mentais, número insuficiente para atender os seus 682,9 mil habitantes. No interior, a situação deve ser ainda pior.
A pergunta que fica é: qual cidade gostaríamos de viver? A minha resposta sem dúvida é o desejo da maioria, estar em uma cidade inclusiva, segura, acolhedora e solidária, onde haja estudo, trabalho e serviços públicos que funcionem. Queremos de volta nossa cidade verde com espaços agradáveis e gratuitos de lazer, como parques, praças e florestas urbanas. Sonhamos com a valorização da cultura, do esporte e do lazer.
Em resumo, como diz a música do Legião Urbana, “a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer“.
Isso significa que queremos muito ser felizes e prósperos na cidade onde escolhemos morar e construir a nossa família. O que vem nos exigir o exercício consciente e inteligente do voto. Chegou a hora de sair de debates vazios para priorizar candidatos que tragam soluções para questões importantes para as nossas cidades. Temos que sair da bolha do individualismo, da competitividade e do imediatismo para poder construir cidades verdadeiramente humanas, colaborativas e saudáveis para nós e as futuras gerações, já que tudo isso também é investir em saúde mental!
*Marisa Helena Alves, psicóloga, mestre em Psicologia pela Universidade Católica Dom Bosco, especialização em Saúde Mental, Psicanálise e Educação na UFMT, e candidata a vereadora por Cuiabá.

Artigos
Do medo reprimido à fuga química, o homem que aprendeu a não temer vive refém da própria coragem

Autor: Nailton Reis* –
Neste artigo propõe um caminho para compreender o que a psicologia chama de “fuga da realidade”. Essa expressão, muitas vezes usada de forma genérica, descreve o movimento em que o sujeito, incapaz de lidar com o próprio mundo interno, seus sentimentos, medos e frustrações, passa a recorrer a comportamentos ou substâncias que o afastam de si mesmo.
Aqui, vamos construir um percurso lógico para entender como essa fuga pode acontecer na vivência masculina, especialmente em contextos de masculinidade tóxica e repressão sexual. Este artigo busca elucidar tais questões para complementar a série de textos disponíveis em @iMentesPlurais, trazendo de maneira clara, acessível e didática as discussões que envolvem a dependência química e seus desdobramentos emocionais.
É importante deixar claro que a dependência química não nasce apenas desse modo, e nem toda pessoa dependente passa pelo mesmo caminho. Mas essa é uma das possibilidades de compreensão: quando o uso de substâncias se torna uma forma de sustentar o papel de “homem de verdade”, aquele que não sente, não chora, não fraqueja.
Esse será, portanto, um olhar sobre o meio masculino como espaço de adoecimento e performance. Vamos examinar como a repressão dos sentimentos primários, a inibição emocional e a busca por aceitação social formam o terreno do uso abusivo, quando o sujeito passa a usar a substância para performar um personagem e não para se expressar.
Desde cedo, o homem é ensinado a não sentir. A ideia de “ser homem” vem carregada de mandamentos invisíveis: não chorar, não demonstrar medo, não hesitar, não fraquejar. E há um mandamento que é o mais perigoso de todos: “homem não pode ter medo”. Esse comando parece pequeno, mas ele vai moldando toda a forma de se relacionar com o afeto e com o risco.
- – Se eu não posso ter medo, então eu não posso dizer que estou com medo.
- – Se eu não posso dizer, eu não posso pedir ajuda.
- – Se eu não posso pedir ajuda, eu vou ter que parecer corajoso o tempo todo, mesmo quando estou apavorado.
Na adolescência, esse falso “não tenho medo” se mistura com o grupo e vira espetáculo. O menino que aprendeu a não demonstrar medo em casa, para não ser chamado de frouxo, agora entra num grupo que pede que ele prove o tempo todo que realmente não tem medo. É aí que aparece aquela cena que muita gente pergunta:
“Mas por que ele não tem medo da polícia? Por que ele encara a morte, o racha, a briga de rua, como se fosse nada?“
Muitas vezes não é que ele não tenha medo, é que ele foi treinado a inibir o medo. O sentimento existe, mas está soterrado. O que aparece é a performance de coragem. E a substância, o álcool principalmente, ajuda a sustentar essa atuação.
Essa é a educação emocional negativa que molda o menino. Ele aprende não o que fazer, mas o que evitar. A mensagem é clara: emoção é fraqueza, medo é coisa de quem não é homem. O resultado é um sujeito que cresce sem vocabulário emocional, sem autorização para expressar o que sente e, por isso, sem saber o que fazer com a própria dor.
Essa repressão dos sentimentos primários, medo, tristeza, afeto, necessidade de cuidado, cria uma espécie de silêncio interno. O menino que engole o choro cresce inibido, retraído, tímido. Não porque nasceu assim, mas porque aprendeu a conter. E essa contenção emocional, ao longo do tempo, não some, ela se acumula. Quando chega a adolescência, ele se depara com o grupo de pares, onde o valor não é a sensibilidade, e sim a ousadia.
No grupo, o que define o “homem” é o quanto ele aguenta, o quanto ele conquista, o quanto ele se impõe. Quem é tímido, quem hesita, quem se mostra vulnerável é ridicularizado. Surge então a fórmula do pertencimento: “se eu não posso ser, eu preciso parecer“. E para parecer, ele recorre àquilo que o ajuda a vestir a roupa da coragem: a substância.
O álcool, especialmente, aparece como o primeiro facilitador. Ele desinibe, solta a voz, reduz a vergonha, mascara a insegurança. Na prática, ele empresta coragem. É ali que a dependência simbólica começa, antes mesmo da química. O sujeito percebe que, sob o efeito da substância, ele é mais engraçado, mais confiante, mais sedutor. Ele descobre uma nova forma de existir, e essa forma vem com o rótulo de “homem de verdade”.
Mas há um preço alto nisso. Quando o homem passa a depender da substância para performar, ele cria uma segunda identidade, uma versão socialmente aceita, mas emocionalmente vazia. Ele bebe para ser. E quanto mais bebe, menos ele é. O “homem de verdade” que ele mostra para o mundo vai, pouco a pouco, substituindo o sujeito que sente, que erra, que precisa de ajuda.
A comunidade masculina, a dos amigos, das festas, das comparações, reforça esse papel. Cada dose é uma prova de masculinidade, cada transa, uma medalha. O problema é que, sem perceber, ele passa a usar não pela substância em si, mas pela validação que ela proporciona. A droga vira um espelho distorcido onde ele se reconhece. E é nesse espelho que o homem perde o próprio reflexo.
Com o tempo, o corpo se adapta e cobra. O prazer químico se impõe sobre o prazer humano, e a dopamina, aquele neurotransmissor que antes sinalizava conquista, afeto, motivação, passa a responder apenas à substância. O corpo reage, mas o sentimento não acompanha. Ele tenta manter o desempenho, o mesmo humor, o mesmo vigor, mas o que antes era natural agora depende de algo externo. É assim que a performance vira prisão. O sujeito não bebe mais para curtir, mas para não desmoronar. Não usa mais para se divertir, mas para continuar sendo o homem que inventaram para ele.
A psicologia compreende essa dinâmica como um tipo de fuga da realidade afetiva. Ao invés de entrar em contato com o que dói, solidão, medo, rejeição, impotência, o homem anestesia. Ele substitui o sentir pelo fazer, o vínculo pelo desempenho, o afeto pelo uso. E assim, o que parecia força revela-se fragilidade disfarçada.
O homem que precisa se drogar para ser homem está sendo homem para os outros, e não para si.
Reconhecer isso é o primeiro passo. O tratamento psicológico não retira a masculinidade, ele a reconstrói. Ensina o sujeito a se reconhecer sem precisar se esconder, a sentir sem medo de parecer fraco, a falar sem precisar se embriagar. O que antes era fuga, vira reencontro. E é nesse ponto que o homem, pela primeira vez, pôde existir sem performance, sem disfarce, com verdade.
*Nailton Reis é Neuropsicólogo Clínico com especialização em Neuropsicologia Cognitiva Comportamental, Avaliação Psicológica e Psicologia do Trânsito em Cuiabá-MT – CRP 18/7767
-

 Artigos7 dias atrás
Artigos7 dias atrásA beira de si mesmo!
-

 ECONOMIA7 dias atrás
ECONOMIA7 dias atrás“Queremos eliminar qualquer dúvida sobre o destino das Emendas Parlamentares”
-

 Artigos6 dias atrás
Artigos6 dias atrásSustentabilidade e legado: o futuro das empresas familiares
-

 Política6 dias atrás
Política6 dias atrásGisela marca presença na COP30 e reforça protagonismo feminino na agenda do clima
-

 Artigos4 dias atrás
Artigos4 dias atrásQuando a violência psicológica abre caminho para o feminicídio
-

 Artigos7 dias atrás
Artigos7 dias atrásDopamina, Tadalafila e o Corpo em Colapso: o prazer roubado pela dependência química
-

 Artigos7 dias atrás
Artigos7 dias atrásCOP-30 – Quando a justiça climática esquece das pessoas com deficiência
-

 ESPORTES5 dias atrás
ESPORTES5 dias atrásSTJD absolve Bruno Henrique e está liberado para jogar