Artigos
Dulce Figueiredo: – Um convite à paternidade consciente

Um convite à paternidade consciente
Por: Dulce Figueiredo –
Paternidade consciente, o que é? Um convite para que o pai participe ativamente do desenvolvimento da criança, ocupando o lugar referente a ele, e que é diferente do papel da mãe. Envolvida com a maternidade desde a gestação, normalmente a mãe impede ou limita a participação do pai na construção de um relacionamento com a criança.
Tudo isso acontece porque a mulher normalmente fantasia que o homem precisa fazer do jeito dela, o que é totalmente inadequado, pois o pai tem uma função diferenciada no desenvolvimento da personalidade do filho. Cabe a ele principalmente quebrar o vínculo simbiótico entre mãe e filho, apresentando a criança ao mundo.
Observe que o pai tem uma forma diferente de ajudar e que muitas das vezes é confundida com desleixe ou despreocupação, mas que em nada tem a ver com isso. Eles têm brincadeiras mais ativas, com mais adrenalina, porque essa é função deles: fazer as crianças viverem emoções intensas, sair do movimento de medo para o movimento de segurança.
Quando o pai joga o filho para cima, rodopia, lança na piscina, faz subir em uma árvore ou brinquedo, está ali incentivando, dizendo que a criança consegue, que ela vai e que se machucar, tudo bem, faz parte do processo. Essa maneira ‘menos cuidadosa‘ – que a da mãe – é a forma de o homem, na sua polaridade masculina de expansão, ensinar a criança a desbravar a vida! A confiar em si mesma!
Como expõe a criança a seus medos, frustrações e à inibição do prazer, já que na interação com as outras pessoas nem todas as suas vontades serão saciadas ou pelo menos não prontamente, cabe ao pai colocar limites. Ele oferece ainda o exemplo, ou seja, um modelo social e relacional de como agir na sociedade. Porque o impulso da mãe é manter o filho a vida toda em uma redoma.
Quando o pai não é convidado para participar, precisa ‘cavar espaço‘ na relação com o bebê. No primeiro momento é mais difícil porque a principal conexão é com mãe. Mas isso não é impedimento para que o pai crie também uma conexão e descubra junto com o filho o que é bom para os dois.
Tudo é uma grande descoberta: a melhor posição no colo, o tom de voz, o contato físico, o jeito de se comunicar. Normalmente o pai fala e o bebê observa e reage, gerando um canal muito pessoal e individual de comunicação. Esse é um momento muito íntimo e não cabe a mãe determinar ou decidir como deve ser.
Aliás, nós mães temos que permitir esse movimento silencioso, cuidadoso, apreensivo e inseguro dos homens, que vai se fortalecendo à medida que a gente incentiva e apoia. A construção desse espaço de convivência é vital e se perpetuará para o resto da vida. Então, precisamos nos afastar e deixar o pai tomar frente dos cuidados, dos passeios e das brincadeiras.
Se a gente observar como se comporta uma família quando vai para um parque ou para a praia, veremos que, enquanto a mãe fica atenta aos mínimos detalhes, o pai deixa os filhos mais livres para explorar aquele ambiente. Claro que isso não é uma regra absoluta, há casais em que esse comportamento é diferente, invertido, e não tem nada de errado com isso.
O importante é que ambas as posturas se completam, cada um na sua forma, levando a criança a provar o mundo sendo amparada (papel da mãe) e também por sua própria conta (papel do pai), o que é fundamental na construção de valores e de autoconfiança.
A paternidade consciente é um tema importante para as famílias conversarem e um mundo a ser descoberto pelos homens. Posso assegurar que o caminho das pedras para essa grande aventura haverá muitos bons momentos, porque independente de classe social, grau de escolaridade ou mesmo nacionalidade, as crianças reagem positivamente sempre a qualquer investida desse homem tão especial: o pai.
Dulce Figueiredo, psicóloga com 24 anos de experiência pela Universidade Santa Úrsula (RJ) e pedagoga pela UFRJ, especialização em terapia de família sistêmica, psicopedagogia e neuropsicologia, MBA Gestão de Recursos Humanos pela UFGV, [email protected].

Artigos
Do medo reprimido à fuga química, o homem que aprendeu a não temer vive refém da própria coragem

Autor: Nailton Reis* –
Neste artigo propõe um caminho para compreender o que a psicologia chama de “fuga da realidade”. Essa expressão, muitas vezes usada de forma genérica, descreve o movimento em que o sujeito, incapaz de lidar com o próprio mundo interno, seus sentimentos, medos e frustrações, passa a recorrer a comportamentos ou substâncias que o afastam de si mesmo.
Aqui, vamos construir um percurso lógico para entender como essa fuga pode acontecer na vivência masculina, especialmente em contextos de masculinidade tóxica e repressão sexual. Este artigo busca elucidar tais questões para complementar a série de textos disponíveis em @iMentesPlurais, trazendo de maneira clara, acessível e didática as discussões que envolvem a dependência química e seus desdobramentos emocionais.
É importante deixar claro que a dependência química não nasce apenas desse modo, e nem toda pessoa dependente passa pelo mesmo caminho. Mas essa é uma das possibilidades de compreensão: quando o uso de substâncias se torna uma forma de sustentar o papel de “homem de verdade”, aquele que não sente, não chora, não fraqueja.
Esse será, portanto, um olhar sobre o meio masculino como espaço de adoecimento e performance. Vamos examinar como a repressão dos sentimentos primários, a inibição emocional e a busca por aceitação social formam o terreno do uso abusivo, quando o sujeito passa a usar a substância para performar um personagem e não para se expressar.
Desde cedo, o homem é ensinado a não sentir. A ideia de “ser homem” vem carregada de mandamentos invisíveis: não chorar, não demonstrar medo, não hesitar, não fraquejar. E há um mandamento que é o mais perigoso de todos: “homem não pode ter medo”. Esse comando parece pequeno, mas ele vai moldando toda a forma de se relacionar com o afeto e com o risco.
- – Se eu não posso ter medo, então eu não posso dizer que estou com medo.
- – Se eu não posso dizer, eu não posso pedir ajuda.
- – Se eu não posso pedir ajuda, eu vou ter que parecer corajoso o tempo todo, mesmo quando estou apavorado.
Na adolescência, esse falso “não tenho medo” se mistura com o grupo e vira espetáculo. O menino que aprendeu a não demonstrar medo em casa, para não ser chamado de frouxo, agora entra num grupo que pede que ele prove o tempo todo que realmente não tem medo. É aí que aparece aquela cena que muita gente pergunta:
“Mas por que ele não tem medo da polícia? Por que ele encara a morte, o racha, a briga de rua, como se fosse nada?“
Muitas vezes não é que ele não tenha medo, é que ele foi treinado a inibir o medo. O sentimento existe, mas está soterrado. O que aparece é a performance de coragem. E a substância, o álcool principalmente, ajuda a sustentar essa atuação.
Essa é a educação emocional negativa que molda o menino. Ele aprende não o que fazer, mas o que evitar. A mensagem é clara: emoção é fraqueza, medo é coisa de quem não é homem. O resultado é um sujeito que cresce sem vocabulário emocional, sem autorização para expressar o que sente e, por isso, sem saber o que fazer com a própria dor.
Essa repressão dos sentimentos primários, medo, tristeza, afeto, necessidade de cuidado, cria uma espécie de silêncio interno. O menino que engole o choro cresce inibido, retraído, tímido. Não porque nasceu assim, mas porque aprendeu a conter. E essa contenção emocional, ao longo do tempo, não some, ela se acumula. Quando chega a adolescência, ele se depara com o grupo de pares, onde o valor não é a sensibilidade, e sim a ousadia.
No grupo, o que define o “homem” é o quanto ele aguenta, o quanto ele conquista, o quanto ele se impõe. Quem é tímido, quem hesita, quem se mostra vulnerável é ridicularizado. Surge então a fórmula do pertencimento: “se eu não posso ser, eu preciso parecer“. E para parecer, ele recorre àquilo que o ajuda a vestir a roupa da coragem: a substância.
O álcool, especialmente, aparece como o primeiro facilitador. Ele desinibe, solta a voz, reduz a vergonha, mascara a insegurança. Na prática, ele empresta coragem. É ali que a dependência simbólica começa, antes mesmo da química. O sujeito percebe que, sob o efeito da substância, ele é mais engraçado, mais confiante, mais sedutor. Ele descobre uma nova forma de existir, e essa forma vem com o rótulo de “homem de verdade”.
Mas há um preço alto nisso. Quando o homem passa a depender da substância para performar, ele cria uma segunda identidade, uma versão socialmente aceita, mas emocionalmente vazia. Ele bebe para ser. E quanto mais bebe, menos ele é. O “homem de verdade” que ele mostra para o mundo vai, pouco a pouco, substituindo o sujeito que sente, que erra, que precisa de ajuda.
A comunidade masculina, a dos amigos, das festas, das comparações, reforça esse papel. Cada dose é uma prova de masculinidade, cada transa, uma medalha. O problema é que, sem perceber, ele passa a usar não pela substância em si, mas pela validação que ela proporciona. A droga vira um espelho distorcido onde ele se reconhece. E é nesse espelho que o homem perde o próprio reflexo.
Com o tempo, o corpo se adapta e cobra. O prazer químico se impõe sobre o prazer humano, e a dopamina, aquele neurotransmissor que antes sinalizava conquista, afeto, motivação, passa a responder apenas à substância. O corpo reage, mas o sentimento não acompanha. Ele tenta manter o desempenho, o mesmo humor, o mesmo vigor, mas o que antes era natural agora depende de algo externo. É assim que a performance vira prisão. O sujeito não bebe mais para curtir, mas para não desmoronar. Não usa mais para se divertir, mas para continuar sendo o homem que inventaram para ele.
A psicologia compreende essa dinâmica como um tipo de fuga da realidade afetiva. Ao invés de entrar em contato com o que dói, solidão, medo, rejeição, impotência, o homem anestesia. Ele substitui o sentir pelo fazer, o vínculo pelo desempenho, o afeto pelo uso. E assim, o que parecia força revela-se fragilidade disfarçada.
O homem que precisa se drogar para ser homem está sendo homem para os outros, e não para si.
Reconhecer isso é o primeiro passo. O tratamento psicológico não retira a masculinidade, ele a reconstrói. Ensina o sujeito a se reconhecer sem precisar se esconder, a sentir sem medo de parecer fraco, a falar sem precisar se embriagar. O que antes era fuga, vira reencontro. E é nesse ponto que o homem, pela primeira vez, pôde existir sem performance, sem disfarce, com verdade.
*Nailton Reis é Neuropsicólogo Clínico com especialização em Neuropsicologia Cognitiva Comportamental, Avaliação Psicológica e Psicologia do Trânsito em Cuiabá-MT – CRP 18/7767
-

 Artigos7 dias atrás
Artigos7 dias atrásA beira de si mesmo!
-

 ECONOMIA7 dias atrás
ECONOMIA7 dias atrás“Queremos eliminar qualquer dúvida sobre o destino das Emendas Parlamentares”
-

 Artigos6 dias atrás
Artigos6 dias atrásSustentabilidade e legado: o futuro das empresas familiares
-

 Política6 dias atrás
Política6 dias atrásGisela marca presença na COP30 e reforça protagonismo feminino na agenda do clima
-

 Artigos4 dias atrás
Artigos4 dias atrásQuando a violência psicológica abre caminho para o feminicídio
-

 Artigos7 dias atrás
Artigos7 dias atrásDopamina, Tadalafila e o Corpo em Colapso: o prazer roubado pela dependência química
-

 Artigos7 dias atrás
Artigos7 dias atrásCOP-30 – Quando a justiça climática esquece das pessoas com deficiência
-

 ESPORTES5 dias atrás
ESPORTES5 dias atrásSTJD absolve Bruno Henrique e está liberado para jogar


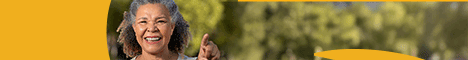
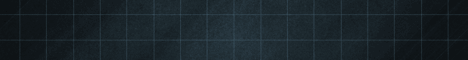











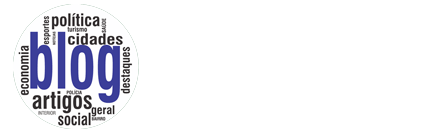
Você precisa estar logado para postar um comentário Login